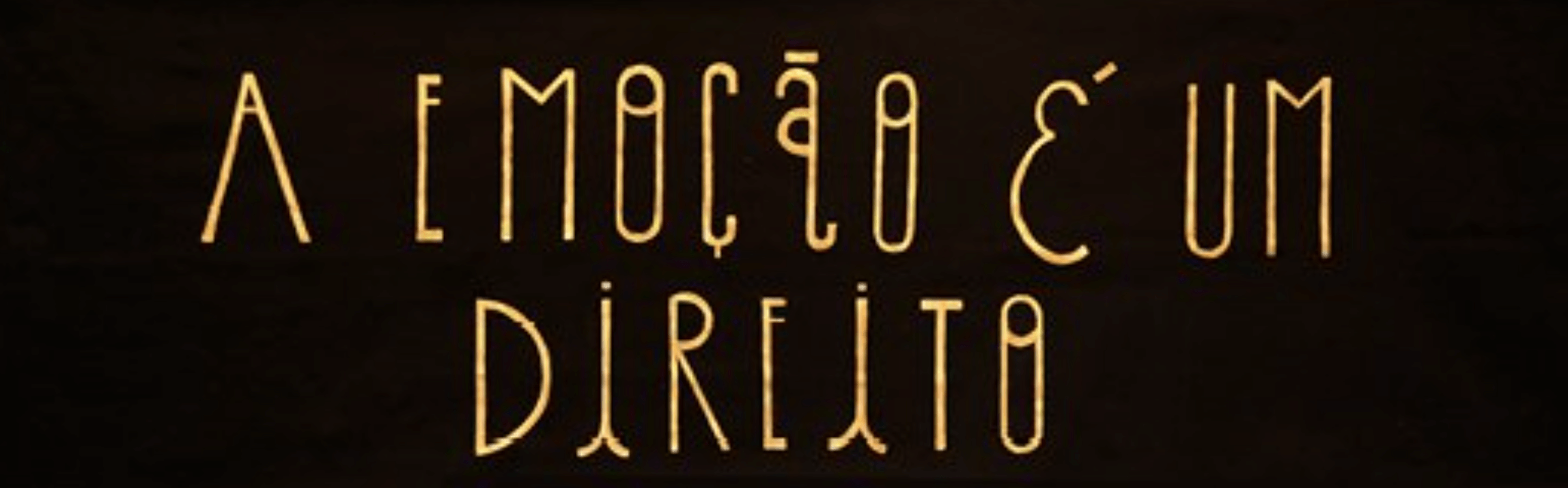CARTAS
Cartas para Carolina
Em vida, Carolina escreveu diversas cartas, nas quais compartilhava aspectos de sua experiência. No arquivo de Carolina Maria de Jesus na Biblioteca Nacional, encontram-se sete cartas escritas por ela.
Os destinatários dessas cartas foram: sr. Hernani, Gerson Tavares (cineasta); Naylor de Oliveira (radialista); Sr. Marinho (possivelmente trata-se de Roberto Marinho, que abriu a sua filial da Rádio Globo em São Paulo em 1966) e Leo Magarinos (editor da livraria Francisco Alves).
Na Carta para Gerson Tavares, escrita em Parelheiros, provavelmente em 31/12/1970, se evidencia sua persistência em relação aos seus projetos literários, bem como seu desgosto com a edição do livro Pedaços da fome.
A escritora narra ainda a história do surgimento da favela do Canindé, provavelmente a pedido do cineasta, e menciona os nomes de alguns editores internacionais.
Carolina também recebeu e recebe diversas cartas, nas quais ela é o destino de quem escreve
Pois é, Carolina, as misérias dos pobres do mundo inteiro se parecem como irmãs. Todos leem você por curiosidade, já eu jamais a lerei; tudo o que você escreveu, eu conheço, e tanto é assim que as outras pessoas, por mais indiferentes que sejam, ficam impressionadas com as suas palavras. Faz uma semana que comecei estas linhas, meus filhos se agitam tanto que não tenho muito tempo para deixar no papel o turbilhão de pensamentos que passa pela minha cabeça. (Françoise Ega)
A antilhana Françoise Ega escrevera diversas cartas, jamais entregues, para Carolina. Françoise trabalhava em casas de família em Marselha, na França.
Era leitora da revista Paris Match, na qual se deparou com um texto sobre Carolina Maria de Jesus e seu Quarto de despejo. Françoise se reconheceu inteiramente em Carolina e isso a inspirou a se reconhecer também escritora. Ega morre em 1976, um ano antes de Carolina. Seu livro, Cartas a uma negra, foi traduzido e publicado em 2021 no Brasil.
FLUP 2020
Yérsia Assis
Clara Anastácia
Jota Ramos
Ananda Azevêdo
Karlana Bianca
Alana Francisca
Valéria Neves
Paty Wolff
Rafa Oliveira
Sara Oliveira
Lara de Paula
Marlete Oliveira
Luana Galoni
Verônica de Souza
Roberta Ferreira
De: Mariana do Berimbau
Para: Carolina Maria de Jesus
“Um texto, uma performance, um quadro, um filme… Operações linguísticas que movem o sentido e a percepção, produzem sensações e afetos.”
— Jotta Mombaça e Musa Musa Mattuzzi, em: “A Dívida Impagável”, Denise Ferreira da Silva
São Paulo, 4 de dezembro de 2024.
Querida Carolina Maria de Jesus, é com um misto de medo e coragem que hoje te escrevo estas linhas. Estou diante de uma banca de concurso público para docente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH – USP). Sim, Carolina, é esta mesma USP onde se deu toda a minha formação. Esta que também foi meu objeto de pesquisa ao longo de toda a minha trajetória até aqui. O ponto sorteado para a dissertação de hoje, Carolina, foi o número 5: “ Violência, raça e sistemas de justiça”. E é grande a quantidade de associações que faço entre ele e essa própria instituição, que agora me avalia.
Antes de falar sobre o ponto, devo dizer que reconheço o risco de utilizar esse gênero textual nessa avaliação. Mas não se preocupe, Carolina, eu consultei o edital e não havia nenhum tipo de impedimento formal. A academia tem dessas coisas, algumas forças ocultas que regem nossas ações para a continuidade do que se apresenta como forma hegemônica. Trazer você comigo hoje, Carolina, foi escolher tensionar as fronteiras dos gêneros textuais aceitos e reconhecidos pela academia. Certamente uma inspiração insubmissa, que eu, como ex-aluna da instituição, considero necessária e bem-vinda.
Também refleti sobre o fato de que a sociologia, área na qual se inscreve esse concurso, é uma ciência que diz ter três pais, Carolina. Todos eles homens, brancos e europeus. Pensei que sua figura, de mulher, preta, favelada e mãe, me ajudaria a não me sentir tão inadequada. Isso sem mencionar que você não fez uso da linguagem culta ou formal, nem do gênero textual usual, tampouco das ferramentas teórico-metodológicas das ciências sociais. Mas, ainda assim, foi capaz de interpretar o Brasil de maneira exemplar, a partir da sua própria experiência vivida, do seu conhecimento situado.
Trago você comigo também como maneira de não me furtar a sinalizar explicitamente o lugar a partir do qual produzo este texto. Me posiciono inspirada pela tradição epistolar de mulheres negras que me antecederam. Como, por exemplo, Maya Angelou, que escreveu Cartas para Minha Filha; Teresa Cárdenas, que escreveu Cartas para Minha Mãe; Gloria Anzaldúa, que escreveu Cartas para Mulheres Escritoras do Terceiro Mundo; e, finalmente, a antilhana Françoise Ega, que também escreveu para você, Carolina, o livro Cartas a uma negra. Escritas que borram a separação entre arte e produção de conhecimento.
Feitas as devidas introduções, devo agora falar sobre o ponto sorteado, Carolina. A primeira palavra é violência. Logo que cheguei à FFLCH hoje, me deparei com um quadro no qual há o desenho do brasão de armas da Universidade de São Paulo. Ao ver o santo sentado em seu trono e abaixo as palavras em latim Scientia Vinces, eu imediatamente me recordei do trabalho da pesquisadora negra Priscila Elizabeth Silva. Em sua tese de doutorado de 2015, ela argumentou que esse brasão teve como inspiração um conjunto de símbolos associados à Eugenia, cujo pensamento esteve presente na concepção desta instituição.
Carolina, honestamente, não acredito que a palavra “violência” no ponto de hoje tenha sido pensada como algo presente aqui mesmo, nesse prédio, em meio a essas paredes e na própria forma de funcionamento deste processo seletivo. Mas, como ex-aluna da USP e estudiosa de suas histórias, ao me deparar com esse quadro me recordei do conjunto de violências que sofri ao longo de minha própria formação nessa instituição. Durante meus anos como estudante, por diversas vezes tive minha capacidade de produção de conhecimento questionada. Talvez por isso o debate epistemológico seja o primeiro que me ocorre quando penso na relação entre violência e raça.
Grada Kilomba, no livro Memórias da Plantação, indica que a violência colonial, entre outros aspectos, se constitui, Carolina, pelo silenciamento dos povos colonizados. Ao serem impedidos de falar, são privados da possibilidade de contar suas próprias histórias. Essa violência de cunho simbólico está diretamente ligada às formas de funcionamento da violência letal, em que operam tanto os genocídios quanto os epistemicídios. Kilomba argumenta que os colonizadores realizam uma operação de inversão de sentidos a respeito do que está em curso na violência colonial. O ato de tampar a boca, que essa autora analisa a partir da imagem da máscara de flandres, Carolina, é justificado como forma de evitar que os colonizados roubassem os frutos das plantações. Ou seja, nessa operação, os colonizados são descritos como perigosos e ameaçadores, quando na realidade são os colonizadores que estão roubando suas terras, sua força de trabalho e, mais do que isso, sua própria possibilidade de humanidade.
Assim, Carolina, é no momento em que os colonizados falam que se faz a possibilidade de identificação da violência colonial e a própria restituição da sua subjetividade e humanidade. Nesse sentido, você foi um grande exemplo e inspiração, Carolina. Não se deixou silenciar e o tempo todo acreditou na importância do que tinha a dizer.
Refletir sobre esse aspecto da violência, que perpassa as possibilidades de fala, de autodenominação e de subjetividade, me remete à maneira como a USP questionou minhas possibilidades de produzir conhecimento pelo fato de eu ser moradora da favela São Remo, vizinha ao campus, a qual, durante o mestrado, seria, junto à USP, o meu próprio objeto de pesquisa. Eu queria pesquisar a relação entre a USP e a São Remo e me perguntaram, Carolina, se, sendo moradora, eu conseguiria me distanciar o bastante do dito “objeto”. Em momento algum minha relação com a USP enquanto aluna foi compreendida como passível de prejuízo a uma suposta ideia de neutralidade axiológica, ou seja, a USP não se viu como “objeto” da minha pesquisa. Ser favelada pedia afastamento, pois eu estudaria a favela, mas o fato de ser estudante, ainda que eu fosse estudar meu local de estudo, não foi considerado uma proximidade relevante.
Aqui estou eu, falando de uma experiência vivida de novo, Carolina. Acontece que é essa posicionalidade que me sensibiliza para transpor as reflexões de Grada Kilomba sobre violência para um outro episódio que se deu, tendo como pano de fundo a sociologia, aqui mesmo, da USP.
Na introdução que Marcos Chor Maio faz para o livro de Virgínia Bicudo, ele conta como as contribuições dessa pesquisadora negra para o campo das relações raciais, publicadas a propósito da famosa pesquisa encomendada pela Unesco nos anos 1950, foram colocadas como apêndice do relatório final e, posteriormente, excluídas da segunda edição.
Isso mesmo, Carolina: uma contribuição pioneira no que se refere à compreensão da existência do racismo no Brasil foi invisibilizada por uma decisão editorial tomada por Florestan Fernandes e Roger Bastide, organizadores do relatório final, que — a despeito de toda sua importância e contribuição para o campo — nesse episódio, conforme narrou Maio em 2010, foram tributários da invisibilização de Virgínia Bicudo.
Eu preciso destacar, Carolina, que esse episódio, narrado por Maio, e que associo a um conjunto de violências epistêmicas sistematicamente praticadas contra mulheres negras no ambiente científico, não está presente no meu texto como forma de desconsiderar o importantíssimo legado dos referidos autores, que em grande parte são representantes da própria sociologia produzida a partir da USP. Pelo contrário: é lembrado com o objetivo de complexificar a compreensão de que, quando se fala de raça, a violência coexiste com os próprios legados positivos e contribuições que marcam a história.
A pesquisadora Denise Ferreira da Silva é muito precisa em estabelecer uma relação entre a violência física e letal, que se encontra globalmente presente atingindo as pessoas negras, e as formas modernas de produzir conhecimento. Segundo o argumento dessa autora, Carolina, há três pilares ontoepistemológicos da ciência moderna que determinam as possibilidades de concepção da diferença, de forma que o conceito de raça atua como sustentação da violência presente — tanto na expropriação monetária e simbólica quanto na possibilidade moral da perpetuação da violência total praticada contra os corpos negros.
Para Denise, Carolina, a justiça falha continuamente diante de corpos e de territórios negros que eram violados e mortos durante a vigência da escravidão e do colonialismo e seguem sendo violados e mortos na atualidade. Diante disso, ela propõe que o corpo feminino negro seja uma maneira de efetuar uma leitura analítica do tripé colonialismo, capitalismo e patriarcado, os quais ela entende como as bases das estruturas globais ético-jurídicas e de seus instrumentos, como, por exemplo, o programa de Direitos Humanos.
Ela diz, Carolina, que as formas como compreendemos o mundo a partir de pressupostos filosóficos dotados de características próprias e situados em um contexto específico da Europa ao mesmo tempo permitem a existência da violência e da subjugação colonial e nos impedem de compreender algumas de suas características fundamentais. Assim, Denise Ferreira da Silva sustenta que o evento racial pode ser interpretado a partir de elementos que não se modificam a despeito do tempo e do espaço.
No livro A dívida impagável, lançado recentemente no Brasil, ela compara duas cenas em que pessoas negras são assassinadas: uma no contexto de uma rebelião em um navio negreiro e outra, atual, em uma ação policial realizada em um bairro negro dos Estados Unidos. Quando compara essas cenas, Carolina, identifica elementos que permanecem presentes a despeito da mudança de contexto, sendo um deles a identificação dos agentes da violência total com o capital. A partir dessa sobreposição de imagens de tempos distintos e da identificação de elementos comuns, ela sustenta que a cena de subjugação colonial é um componente intrínseco ao funcionamento dos sistemas de justiça da atualidade, sistemas que se mostram complacentes com o extermínio de corpos negros.
Pensando ainda sobre violência, raça e sistemas de justiça, Carolina, me lembrei de Achille Mbembe. Tenho a impressão de que, no contexto da sociologia, suas formulações vêm sendo mais absorvidas. Digo isso pois a própria Denise Ferreira da Silva declara ter se distanciado da sociologia. Mbembe, Carolina, vai falar sobre violência a partir do conceito de necropolítica. Ele também se refere aos efeitos da escravidão e do colonialismo. Aqui, entretanto, eles seriam parte do que conferiu ao Estado o poder de decidir quem pode viver e quem deve morrer.
No discurso do colonialismo, a violência estaria a serviço da civilização, e atualmente ela configura a maneira como as políticas de morte constituem a organização social em seus mais distintos aspectos, atingindo, sobretudo, negros e países periféricos. É verdade, Carolina, se a gente parar para pensar: violência policial, violência obstétrica, violência epistêmica, negligências e falta de atendimento, maior exposição às epidemias, ao calor excessivo oriundo do aquecimento global, às ditas “catástrofes ambientais”, tudo isso pode ser interpretado a partir do conceito do Mbembe de necropolítica.
Eu mesma fiz um esforço grande para sair da favela quando meus dois filhos negros começaram a crescer um pouco mais, Carolina. Eu mesma também já quase virei estatística… Fora tudo isso, ainda tem a fome, não é, Carolina? Seu trabalho me lembra que a fome, a pobreza, a miséria, também podem ser interpretadas à luz do conceito de necropolítica.
Bom, Carolina, eu falei de Grada Kilomba, da violência ligada ao silenciamento. Para ilustrar isso, trouxe o caso da invisibilização de Virgínia Bicudo. Falei um pouco das formulações de Denise Ferreira da Silva, que associa o que ela chama de violência total com sistemas de justiça modernos. Agora, trouxe um pouco do conceito de necropolítica de Mbembe.
E ainda quero mencionar o trabalho de Paulo César Ramos, que em um de seus artigos de 2019 estabelece um diálogo entre o debate sobre políticas de reconhecimento — tal qual as formulações de Axel Honneth, Nancy Fraser, entre outros — e a violência policial.
Ele também relaciona, Carolina, o projeto epistemológico ocidental com questões envolvendo o aparato jurídico-político presente no Brasil na atualidade. Nesse artigo, em específico, intitulado “Raça e racismo entre a violência policial e a teoria do reconhecimento”, ele apresenta as três formas de reconhecimento que são: relações primárias/vínculos emocionais; relações jurídicas, enquanto membro da coletividade; e, finalmente, a possibilidade de reconhecimento nas diferenças. A partir daí, Carolina, ele argumenta que a histórica luta do movimento negro contra a violência policial pode ser lida como uma luta por reconhecimento. Nesse caso, o que estaria em jogo seria a defesa do “maior recurso econômico, qual seja, a vida”.
É, Carolina, o debate sobre violência e raça é extenso. Aimé Césaire também se ocupou disso em seus “Discursos sobre o colonialismo”. Ele enfatizou como a selvageria da brutalidade colonial permanecia sendo praticada pelos colonizadores, mas associada aos colonizados. Isso me lembra o medo que a sociedade brasileira tem dos corpos negros. Lembro dos rolezinhos em que jovens de periferia marcavam grandes encontros em shoppings e, quando chegavam, sua presença era lida como ameaça. Os lojistas fechavam as portas, acionavam alarmes, chamavam a polícia e também a mídia.
Parecido também, Carolina, com o que estudei no trabalho de mestrado que mencionei no início desta carta. A presença de adolescentes moradores da favela São Remo, brincando, empinando pipa, andando de bicicleta no campus da USP nos anos 1990, causava pavor na comunidade universitária. Eles eram chamados de marginais, delinquentes, entre outras coisas.
Até que um dia a guarda da USP abordou uns meninos que estavam nadando na raia olímpica do campus, e um deles desapareceu. O corpo apareceu boiando três dias depois. O nome dele era Daniel Pereira de Araújo e, após sua morte, a população da São Remo organizou protestos muito grandes na USP, que foram veiculados na mídia como violentos. Você acredita, Carolina? Eles perderam um menino, alegavam assassinato, mas eles é que foram apresentados como violentos. Grada Kilomba estava certa, a inversão operada no contexto racial do colonialismo é algo digno de nota. Até hoje, a comunidade conta essa história de um jeito e a USP e seus compêndios contam de outro. Se, como pesquisadora, não cabe a mim buscar uma certa verdade, meu trabalho ao menos registrou a existência dessa outra versão.
Ah! Sim! Carolina, isso me lembra uma outra importante formulação sobre raça e violência: a desenvolvida por Saidiya Hartman. Nesse caso, principalmente no texto “Vênus em dois atos”, mas não só, ela problematiza a violência oriunda da produção de conhecimento histórico. Ela diz, Carolina, que muitas vezes, a partir dos arquivos, tudo o que conseguimos — e nesse caso ela está falando de histórias de mulheres negras durante a escravidão — é retratar um esboço da violência a que essas mulheres foram submetidas.
Ao tomar certos procedimentos e regras como única forma possível de produzir conhecimento no campo da história, ocorre um apagamento da humanidade dessas mulheres, que são inscritas na história simplesmente como vítimas destituídas de sua subjetividade, ou seja, sendo duplamente violentadas. A primeira no ato em si e a segunda na maneira como se produz a história sobre elas. Daí sua proposição de Fabulação Crítica como método de produção de História que vai além dos arquivos e se confunde com a literatura. É um tensionamento importante que ela faz, reconhecendo a violência presente na produção da história, Carolina. Assim como eu, ao decidir escrever o gênero carta, em uma prova de concurso, o faço para tensionar a violência envolvida na própria maneira de funcionamento desse certame, afirmação que eu sustento com base no número baixíssimo de pessoas negras que tenham sido aprovadas em processos como esse, sobretudo aqui na USP, em que a branquitude é plenamente hegemônica na posição de docência, a qual, vale ressaltar, dá acesso a um conjunto grande de recursos para produzir conhecimento. Ou seja, a própria posição produz pesquisadores. Pesquisadores brancos cujas perspectivas serão consagradas, assim como Florestan Fernandes se consagrou a partir desse lugar, enquanto invisibilizava a produção e a existência da intelectual negra Virgínia Bicudo.
Carolina, o tempo de prova está acabando. Como comecei falando de como o ponto sorteado me remete às violências raciais existentes na própria USP, e estou terminando com a Saidiya Hartman, que enfatiza os limites da produção de conhecimento histórico — sobretudo a respeito das mulheres negras brutalmente violentadas —, vou encerrar te contando o caso de Jacinta Maria Santana. Além de tudo, ele também dialoga com os sistemas de justiça, por ter se dado na Faculdade de Direito, que hoje é parte da USP.
Nos primeiros anos do século XX, Carolina, o corpo de uma mulher negra foi mumificado como parte de um experimento científico do professor de Medicina Legal da Faculdade de Direito de São Paulo, Amâncio de Carvalho. Após realizar o procedimento, ele manteve o corpo dessa jovem negra, chamada Jacinta Maria de Santana, exposto na sala onde dava aulas, na referida instituição. O corpo permaneceu lá por aproximadamente 30 anos, durante os quais os estudantes o utilizavam como forma de se divertir.
É isso mesmo, Carolina: eles usavam como um objeto, colocavam chapéu, colocavam vela nas mãos para ela segurar, como se fosse um castiçal, e um dia escreveram uma carta em seu nome, dizendo que Jacinta iria se suicidar. Em seguida, jogaram o corpo em um barranco no centro da cidade de São Paulo. Ao encontrá-lo, a polícia achou que se tratava de um crime, mas, quando Jacinta — ou “a múmia do Amâncio” — foi identificada, imediatamente o ato foi interpretado como uma “estudantada”, uma piada, uma brincadeira dos estudantes, então vistos como irreverentes e bem-humorados.
Carolina, esses estudantes de Direito se tornariam juízes, desembargadores, advogados, promotores, delegados, governadores e até mesmo presidentes. Sim, essa faculdade formava quadros para ocupar lugares de poder no sistema jurídico-político brasileiro. Foram quase três décadas de exposição e vilipêndio do corpo de Jacinta. A violência, a objetificação e sua respectiva banalização construíram, como analiso em minha tese de doutorado, não só a formação desses homens brancos, mas também a história dessa instituição, que alguns anos mais tarde foi incorporada à Universidade de São Paulo no momento de sua criação, em 1934. Amâncio, o médico que realizou o experimento, foi consagrado, e Jacinta permaneceu esquecida por décadas.
As histórias de Daniel Pereira de Araújo — adolescente morador de São Remo que desapareceu numa intervenção da guarda da USP e surgiu misteriosamente dias depois, morto, na raia olímpica — e de Jacinta Maria Santana — que analisei respectivamente em meu mestrado e doutorado — me permitem refletir, Carolina, a convite do ponto sorteado pela banca, sobre qual é a relação da própria USP com a violência perpetrada contra corpos negros e, mais do que isso, com a formação de quadros que constituem um sistema de conhecimento e um sistema jurídico-político em que essas e outras tantas violências seguem se perpetuando.
Eu, Carolina, que aqui estudei e por diversas vezes tive meu lugar de pessoa negra, designada como mulher ao nascer, de favelada, mãe e trabalhadora, colocado como forma de me silenciar e invisibilizar, não posso me apresentar diante desta instituição de outra forma que não seja insubmissa, termo inspirado em Conceição Evaristo, que de forma sensível e poetica produz conhecimento e relata violências e humanidades nas Insubmissas Lágrimas de Mulheres, mas também no artigo de Angela Figueiredo, intitulado “Epistemologia insubmissa feminista negra decolonial”, em que a autora pontua como o feminismo negro propõe e pratica abordagens teórico-metodológicas que tensionam as maneiras hegemônicas de produzir conhecimento.
Ao escolher escrever o texto em forma de carta em uma prova de concurso para docente, eu bato na porta, não apenas como quem quer entrar, mas também como quem deseja evidenciar um conjunto de violências epistêmicas (já que o ponto sorteado permitiu essa abordagem) e de maneiras possíveis de se posicionar contra elas. A USP tentou me calar, Carolina, mas eu concluí meus estudos e hoje venho me apresentar evidenciando que cumpro todos os requisitos necessários para ocupar uma posição como essa. E ao mesmo tempo sinalizo que eu não iria jamais vestir essa camisa de forma acrítica. Se eles quiserem me aceitar, terão que aceitar também o melhor que tenho a oferecer: a minha crítica a esta própria Universidade, feita enquanto pessoa negra designada como mulher ao nascer, ex-aluna, mas também como mestra e doutora formada pela USP e que teve a história da USP como “objeto de pesquisa”.
Obrigada por me inspirar, Carolina, e por me lembrar que o que eu tenho a dizer é importante. Obras como a sua são parte do que faz esse tipo de instituição se rever. É dessa forma também que pretendo contribuir.
Um abraço nos confins do tempo espiralar, tal qual descrito por Leda Maria Martins, onde os pilares ontoepistemológicos da separabilidade, da sequencialidade e da determinabilidade, descritos por Denise Ferreira da Silva, estão em xeque, permitindo assim o nosso encontro! Um encontro de “começo, meio e começo”, como ensinou nosso querido mestre quilombola Nego Bispo, que recusou ter seu saber legitimado por uma instituição científica! Você também não precisou de universidade para se fazer uma intelectual inquestionavelmente grandiosa, Carolina!
Obrigada por me ensinar tanto.
Sinceramente,
Mariana do Berimbau